Usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Fazemos isso para melhorar a experiência de navegação e exibir anúncios personalizados. O consentimento para essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar negativamente certos recursos e funções.
O armazenamento ou acesso técnico é estritamente necessário para a finalidade legítima de permitir a utilização de um serviço específico explicitamente solicitado pelo assinante ou utilizador, ou com a finalidade exclusiva de efetuar a transmissão de uma comunicação através de uma rede de comunicações eletrónicas.
O armazenamento ou acesso técnico é necessário para o propósito legítimo de armazenar preferências que não são solicitadas pelo assinante ou usuário.
O armazenamento ou acesso técnico que é usado exclusivamente para fins estatísticos.
O armazenamento técnico ou acesso que é usado exclusivamente para fins estatísticos anônimos. Sem uma intimação, conformidade voluntária por parte de seu provedor de serviços de Internet ou registros adicionais de terceiros, as informações armazenadas ou recuperadas apenas para esse fim geralmente não podem ser usadas para identificá-lo.
O armazenamento ou acesso técnico é necessário para criar perfis de usuário para enviar publicidade ou para rastrear o usuário em um site ou em vários sites para fins de marketing semelhantes.

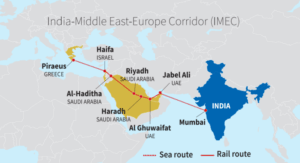

 Note, ainda, que, ao citar o pensamento de Hegel, escrevi que a alienação é o processo em que a consciência se torna estranha a si mesma, enquanto que, ao citar Marx, usei o termo ser humano para descrever aquilo que se afasta da sua natureza real no processo da alienação. Essa diferença sutil também revela a inversão do sentido no vetor filosófico do idealismo pelo materialismo, uma vez que Hegel trabalha a noção de consciência enquanto uma fenomenologia do espírito rumo a um saber absoluto, enquanto Marx constrói o conceito de uma consciência de classe do indivíduo na sociedade capitalista que ele vê, pisa e busca transformar.
Note, ainda, que, ao citar o pensamento de Hegel, escrevi que a alienação é o processo em que a consciência se torna estranha a si mesma, enquanto que, ao citar Marx, usei o termo ser humano para descrever aquilo que se afasta da sua natureza real no processo da alienação. Essa diferença sutil também revela a inversão do sentido no vetor filosófico do idealismo pelo materialismo, uma vez que Hegel trabalha a noção de consciência enquanto uma fenomenologia do espírito rumo a um saber absoluto, enquanto Marx constrói o conceito de uma consciência de classe do indivíduo na sociedade capitalista que ele vê, pisa e busca transformar.


