O outro
O outro, essa pessoa, categoria analítica ou entidade fenomenológica, está sempre por aí. Na verdade, por aí, por aqui, por ali. Eu sou o seu outro, aqui. Você, caro leitor, é o meu outro neste momento em que escrevo.
Porém, convenhamos, o mundo é muito grande para que tenhamos somente um ao outro. Cada um de nós tem muitos outros outros.
Sim, porque o outro está presente mesmo quando estamos sozinhos. Ele é um inquilino permanente que nos habita. Nesta relação nada mercantil o pagamento vem em diversas moedas. Por vezes ele nos persegue, censura, entristece, fustiga, noutras ele nos acolhe, alegra, acalma, liberta, inspira. Dependendo do outro, recebemos um pouco de cada, em proporções variáveis.
O fato é que o outro sempre nos estimula. Quando este estímulo não vem do outro no mundo exterior, vem do outro no mundo interior.
Do ponto de vista das ciências sociais o outro é a instância fundamental de constituição do sujeito, porque somente a partir do outro ele pode se reconhecer por diferenciação, erigindo a sua subjetividade.
Para a psicanálise freudiana, na vida adulta o outro é mais um dos múltiplos objetos do mundo exterior no qual investimos nossa libido. Porém, antes, ele nos constitui desde o primeiro momento, nas relações parentais. Destino inalcançável das nossas fantasias, mas também das identificações, o outro é a última instância da realização e da interdição dos nossos desejos.
Por isso, buscamos a repetição de beijos e abraços dados e não escapamos às fantasias com aqueles nunca dados.
Há, também, o outro dentro de nós com quem repetimos discussões e ensaiamos arrependimentos pelo dito e pelo não dito.
Ah, se arrependimento matasse, diria o outro. Não mata, não. Nos constitui.
Mas há, aqui, duas importantes distinções: sentir arrependimento é diferente de sentir culpa. Esta última, por sua vez, difere-se também de responsabilidade. Voltaremos a estas diferenças mais a frente.
O inferno palaciano

Napoléon Ier à Fontainebleau le 31 mars 1814. Óleo sobre tela, 138 x 180 cm. Paul Delaroche,1840.
O inferno são os outros! A conhecida frase de Jean-Paul Sartre não foi escrita em nenhum dos seus tantos livros, ensaios ou em uma entrevista. Ela veio a público no Théâtre du Vieux-Colombier, em maio de 1944, na première da peça Huis Clos (De portas fechadas), pela boca de Garcin, personagem criada pelo filósofo francês.
A trama, em ato único, desenrola-se a partir de três desconhecidos entre si, Inès, Estelle, Garcin, e O Garçom (ou O Criado na tradução brasileira). Este último, representante do Diabo, faz as vias de apresentar às demais personagens a sua nova morada eterna: o inferno.
Diferentemente daquilo que imaginamos, o cenário assemelha-se pouco ao inferno bíblico, exceções feitas ao calor escaldante e à iluminação total do ambiente. Não há torturadores, grelhas, estacas, castigos físicos. Antes, é um salão imperial, ao estilo do regime bonapartista, com móveis, uma lareira e uma estátua de bronze. Não há janelas, espelhos, nem nada que seja frágil.
A força e a solidez napoleônica são invocadas no cenário, na atemporalidade da eternidade onde não se dorme, nem se pisca, mas também no enfrentamento do qual não se escapa, dos erros cometidos, da má-fé que não pode mais ser mascarada, mas que deve ser paga.
Ali, sem espelhos, cada qual só pode ver a si mesmo no reflexo no olho do outro. Onde, para além do reflexo, encontra o julgamento deste outro, o carrasco que reflete a sua própria consciência da má-fé, a sua culpa.
As traduções do título da peça, em português, Entre quatro paredes, e em inglês, No exit, complementam o amplo sentido da reflexão de Sartre.
Há uma clausura intransponível na existência, jamais saímos de nós mesmos. Se somos vocacionados para a liberdade, ela não vem sem escolhas e à revelia do olhar dos outros.
A liberdade, para Sartre, certamente inspirado por Freud, é um constante vir-a-ser que só pode ser experimentado pela autorresponsabilização perante os nossos desejos, pela atitude de assumirmos as ações tomadas e as escolhas feitas que, sempre, envolvem o outro.
Caso contrário, quando nos desresponsabilizamos na busca pela satisfação dos nossos desejos, padecemos no inferno, fadados a nos reconhecermos eternamente e somente no olhar do outro. Nos enxergando no carrasco que nos julga, tortura e do qual não conseguimos escapar. No carrasco que nos descobre, desvenda, desnuda e revela aquilo que sempre escondemos: a nossa covardia diante da liberdade.
Esse olhar infernal do outro somos nós mesmos, quando somos obrigados a reencontrar, como culpa, a responsabilidade da qual acreditávamos estar desviando, deliberadamente, por má-fé.
Neste sentido, esta peça, encenada pela primeira vez quando a II Guerra Mundial caminhava para o seu desfecho, é uma alegoria que marca o início da transição pela qual passaria o próprio filósofo que já havia escrito o colossal O ser e o nada, considerada por muitos a sua obra máxima.
A partir dali, paulatinamente, para Sartre o conceito de liberdade expandiria de um imperativo ontológico para um destino do ser social e político.
Sua atuação política transbordou da sua filosofia, das linhas herméticas do existencialismo para as ruas de Paris, e o transformou em uma das referências da geração que marcou a história francesa e ocidental com as manifestações de maio de 1968.
O canalha
Samuel Johnson, um intelectual britânico do século XVIII disse que o patriotismo é o último refúgio de um canalha. Sendo um conservador monarquista e anglicano devoto, devemos supor que ele sabia bem do que estava falando.
Obviamente, ele não se dirigiu aos patriotas, mas aos canalhas. Não são todos os patriotas que são canalhas. Mas o último reduto possível a um canalha, para Johnson, é o patriotismo ou o nacionalismo.
É com esta macroidentidade última que pode transitar aquele cuja canalhice já foi desmascarada em todos os outros enredos e esferas da vida social. Poderíamos, também, expandir a noção de patriotismo para a de moralismo.
O canalha, enquanto sujeito vil e grosseiro é um narcisista contumaz porque sabe que é insignificante para a maioria das pessoas. Assim, só lhe cabe destinar grande parte do seu amor a si próprio.
Não há problema no narcisismo, uma vez que todos necessitamos dele como um recurso permanente de sobrevivência. Tampouco, nada decorre de grave em excedermos eventualmente no nosso narcisismo.
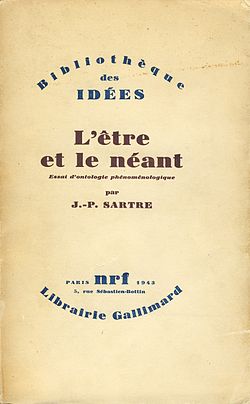
Capa da 1ª edição de O Ser e o Nada – Ensaio de Ontologia Fenomenológica, de Jean-Paul Sartre. Paris: Gallimard, 1943.
Ainda, mesmo alguém excessivamente narcisista na busca pela satisfação dos seus desejos pode não ser um canalha, uma vez que estas são dinâmicas psíquicas predominantemente inconscientes.
O que define um canalha é que além de ser excessivamente narcisista ele tem consciência e age de má-fé. Prejudicar o outro, para ele, é uma escolha. Mais, uma escolha trivial e recorrente.
Ao canalha há um certo espaço social, onde ele sempre encontrará amantes e cúmplices conscientes ou inconscientes das suas canalhices, contudo, ele não hesitará em prejudicar estas mesmas pessoas para satisfazer os seus desejos e empreender as suas fantasias.
O que geralmente decorre das suas canalhices é que ele não vai longe nas múltiplas realidades sociais, uma vez que poucas serão as redes sociais parciais que o aturarão por muito tempo.
Alguns poderiam apontar nestas características os traços da psicopatia, o que seria correto, não fosse o fato de que o psicopata domina plenamente, no mais das vezes com elegância, o trânsito das normas.
Ao psicopata, o exercício da empatia tende a ter uma baixa modulação, fazendo com que ele precise se apegar, dominar e transitar com extrema perícia pela normatividade para satisfazer os seus desejos. (Um adendo necessário: aqui não tratamos do serial killer estereotipado dos filmes. Algo que, inclusive, faz muito mal à compreensão coletiva da psicopatia).
Já ao canalha o que não costuma faltar é empatia, paixão. Ele é regredido como uma criança que busca o perdão da mãe, no pior sentido possível, porque ele tem a força e as armas de um adulto.
Ele pode até circular com certa perícia nas relações, mas sempre, invariavelmente, cairá em suas próprias tramas. Porque lhe falta uma dose de compreensão sobre os próprios afetos e uma certa inteligência social, uma vez que é tomado pelas suas fantasias e delírios de grandeza.
Assim, o canalha aproxima-se mais do psicótico, do paranoico, porque orienta o mundo ao seu redor a partir da sua culpa, do seu inferno particular.
Portanto, ao contrário do que o senso comum tende a acreditar, as esferas pública, midiática e de políticas institucionais não são um ambiente propício ao canalha. Estes não são espaços que favorecem a sua camuflagem, por serem posições de muita exposição e escrutínio público onde é necessária a interlocução permanente com muitos outros.
Ao menos era assim, quando compartilhava-se socialmente a noção de que canalhas não merecem ser os depositários de desejos, esperanças e anseios coletivos.
O drama brasileiro
Voltamos às distinções entre o responsável, o arrependido e o culpado.
Enquanto o responsável, movido pelos seus desejos inconscientes, orienta-se pela boa-fé e pela ética, o arrependido é o responsável que fez uma escolha de boa-fé, mas percebeu que foi a escolha errada.
Já o culpado é aquele que agiu deliberadamente, conscientemente, de má-fé. Quando ele atua reencenando a sua culpa cotidianamente em prejuízo dos outros, o chamamos de canalha. No entanto, se este prejuízo, dano ou dor causada no outro for a própria meta dos seus desejos, o chamamos de sádico.
Como falta capacidade e coragem de se responsabilizar e, nos termos de Sartre, se comprometer com a sua própria liberdade, ao canalha encerrado em seu palácio bonapartista só restam duas saídas falsas para tentar fugir do seu inferno particular: acreditar que é Napoleão Bonaparte ou exterminar o olhar do outro.
A saída napoleônica ocorre após o estágio da paranoia, quando esta ergue uma defesa mitomaníaca que, não raramente, envolve espadas, armas de grosso calibre e cavalos. Assim, batendo bumbo, o canalha tenta diluir o seu inferno particular no mundo exterior, para compensar a sua pequenez. Desta forma, ele consegue um alívio pessoal ao angariar provisoriamente seguidores que se identificam com ele, mas que logo se devorarão uns aos outros neste inferno expandido.
A outra falsa saída do seu inferno particular é, simplesmente, tentar aniquilar o mundo exterior, inclusos os adeptos que não o seguirem cegamente em uma identificação total. Isso se faz, como apontou Johnson, travestido de nacionalista, último espaço social e simbólico possível para tentar camuflar a sua canalhice, enquanto tenta silenciar e exterminar o olhar do outro. Porque ali, no outro, o canalha vê refletida a sua culpa, a sua má-fé, os seus erros e a sua insignificância.
Acontece que falsos napoleões e verdadeiros canalhas não costumavam chegar às altas esferas do poder desde o fim da II Guerra Mundial. Em momentos de aparente continuidade histórica, canalhas e sádicos costumam ser contidos naturalmente nas linhas mais baixas das instituições, exatamente porque não hesitam em colocar populações, a coisa pública e o próprio país em risco. Seja no exército, nos partidos políticos, no congresso, na igreja ou no aparato judiciário.
Quando ocorre um processo de anomia, geralmente provocado por duros embates geopolíticos após graves crises econômicas, forças deste submundo das instituições começam a emergir com os seus bumbos, estimulados por poderosos interesses organizados interna e externamente. Nesta empreitada, como antes, esta ascensão conta com muitos outros cúmplices poderosos, agora arrependidos ou culpados.
Este processo, obviamente, gera uma resposta que tende a se organizar também através das instituições e na sociedade civil.
São momentos em que os infernos particulares e as fantasias transbordaram em violência, paranoia e, no século XXI, em um negacionismo, princípio de psicose coletiva instigada por mentiras pulverizadas e a destituição de referenciais e das verdadeiras autoridades em suas respectivas áreas.
Eis o retorno do reprimido, agora nas versões WhatsApp e YouTube. Eis uma sociedade em que massas se reconheceram pela via do consumismo, ao invés de terem um Estado de bem-estar social. Eis uma pandemia.
Eis o drama brasileiro. Impasse do qual só sairemos quando nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas e ações, orientados pela boa-fé e por princípios éticos, quando reconhecermos no olhar dos outros o nosso próprio desejo de liberdade.
O arrependimento edifica, a culpa destrói.

