 No texto O sujeito entrópico – Um ensaio sobre redes sociais, estrutura, reconhecimento e consumismo, publicado no livro
No texto O sujeito entrópico – Um ensaio sobre redes sociais, estrutura, reconhecimento e consumismo, publicado no livro
A contemporaneidade se revela como um palco de paradoxos intensos: ao mesmo tempo em que a globalização aproxima povos e culturas, desmantelando fronteiras geográficas e simbólicas, emergem sentimentos profundos de hostilidade e intolerância direcionados a minorias, grupos marginalizados e maiorias subjugadas por elites locais. Essa dicotomia entre conectividade e fragmentação identitária exige uma investigação meticulosa sobre os mecanismos psíquicos e sociais que alimentam tais tensões. Para adentrar nesses labirintos, esse artigo pretende apresentar a ideia freudiana de narcisismo das pequenas diferenças com as reflexões de Pierre-André Taguieff sobre o medo ao pequeno número e a análise de Arjun Appadurai em “O medo ao pequeno número: ensaio sobre a geografia da raiva”.
O narcisismo das pequenas diferenças: O Eu no espelho do Outro
Sigmund Freud, em sua obra “O mal-estar na civilização” (1930), introduz o conceito de narcisismo das pequenas diferenças para explicar a tendência humana de enfatizar e exacerbar distinções mínimas entre indivíduos ou grupos culturalmente próximos. Esse mecanismo psíquico atua como uma defesa contra a ameaça que o outro semelhante representa à identidade do Eu. Ao projetar hostilidade sobre diferenças sutis, o indivíduo reforça a sensação de unicidade e superioridade, evitando confrontar a inquietante proximidade com o outro.
Freud postula que essa agressividade dirigida às pequenas diferenças é fundamental para o sentimento de coesão dos grupos sociais. Ao identificar e antagonizar nuances no outro, o grupo reafirma seus próprios valores e fronteiras identitárias. Esse processo permite a manutenção de uma ilusão de homogeneidade interna, mascarando conflitos e contradições inerentes à própria comunidade.
No contexto contemporâneo, marcado pela hiperconectividade e pela circulação massiva de pessoas e informações, o narcisismo das pequenas diferenças adquire novas configurações. A proximidade virtual com o outro culturalmente similar, mas ligeiramente diferente, intensifica o desconforto e a necessidade de demarcação. Esse fenômeno é visível nas rivalidades entre grupos étnicos, religiosos ou nacionais que compartilham raízes históricas comuns, mas que se engajam em conflitos acirrados baseados em distinções aparentemente superficiais.
O medo ao pequeno número: a paranoia do minoritário
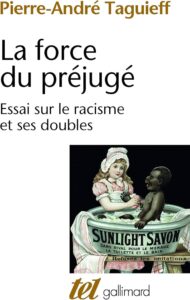
A força do preconceito: Ensaio sobre o racismo e seus duplos
Pierre-André Taguieff, filósofo e sociólogo francês, de certa forma aprofunda essa discussão ao explorar o medo ao pequeno número. No ensaio La Force du préjugé: Essai sur le racisme et ses doubles, publicado em 1988, ele analisa como sociedades majoritárias desenvolvem uma aversão irracional a minorias numéricas, percebendo-as como ameaças desproporcionais à ordem social e à identidade coletiva. Essa paranoia social não se fundamenta em perigos reais ou objetivos, mas em construções imaginárias que atribuem ao pequeno número um poder desestabilizador exagerado.
Taguieff argumenta que esse medo está enraizado em ansiedades profundas sobre a pureza identitária e a coesão social. Minorias são transformadas em bodes expiatórios, carregando projeções das inseguranças e contradições internas da maioria. O pequeno número, paradoxalmente, torna-se um gigante simbólico que precisa ser controlado ou eliminado para restaurar a sensação de segurança.
Esse mecanismo se manifesta em diversas formas: discriminação sistêmica, políticas de exclusão, violência física e simbólica. A minoria é frequentemente desumanizada, retratada como portadora de valores ou práticas que ameaçam a integridade moral, cultural ou econômica da sociedade dominante. Essa narrativa justifica ações repressivas e legitima a negação de direitos fundamentais.
Arjun Appadurai e a geografia da raiva: globalização e violência contra minorias
Arjun Appadurai, renomado antropólogo indiano, em sua obra “O Medo ao Pequeno Número: Ensaio sobre a Geografia da Raiva” (2006), oferece uma perspectiva inovadora sobre como a globalização intensifica esses fenômenos. Ele argumenta que a modernidade global produz uma sensação de incerteza e ansiedade em relação à identidade nacional e cultural. As fronteiras tradicionais são borradas, e as narrativas unificadoras do Estado-nação são desafiadas por fluxos transnacionais de pessoas, ideias e capital.
Ele introduz o conceito de “ansiedade de incompletude”, sugerindo que as nações modernas temem não alcançar uma identidade completa e coesa. Nesse contexto, minorias étnicas ou religiosas são vistas como obstáculos à realização dessa completude imaginada. A raiva e a violência dirigidas a esses grupos são, portanto, expressões de uma tentativa desesperada de eliminar elementos que simbolizam a fragmentação interna.
A globalização, ao mesmo tempo em que conecta, também acentua diferenças e promove comparações constantes. As comunidades são expostas a uma pluralidade de modos de vida, gerando questionamentos sobre seus próprios valores e tradições. Essa exposição pode levar a uma reafirmação agressiva da identidade, na qual o outro é visto como uma ameaça à estabilidade e à continuidade cultural.
Appadurai destaca que a violência contra minorias não é apenas um fenômeno local, mas está inserida em uma geografia da raiva que se espalha globalmente. Eventos em uma parte do mundo podem influenciar atitudes e ações em outras, através da mídia e das redes transnacionais. Essa interconexão potencializa a disseminação de ideologias extremistas e xenófobas.
Uma leitura das tensões contemporâneas
 A intersecção entre o narcisismo das pequenas diferenças, o medo ao pequeno número e a geografia da raiva oferece um arcabouço teórico robusto para compreender as tensões que permeiam as sociedades atuais. Esses conceitos revelam como processos psicológicos individuais se refletem e se amplificam nas dinâmicas sociais e políticas.
A intersecção entre o narcisismo das pequenas diferenças, o medo ao pequeno número e a geografia da raiva oferece um arcabouço teórico robusto para compreender as tensões que permeiam as sociedades atuais. Esses conceitos revelam como processos psicológicos individuais se refletem e se amplificam nas dinâmicas sociais e políticas.
O narcisismo das pequenas diferenças explica a necessidade de demarcar fronteiras identitárias mesmo em contextos de grande semelhança cultural. Essa demarcação é fundamental para a construção do “nós” em oposição ao “eles”, mesmo que as diferenças sejam mínimas. Quando combinado com o medo ao pequeno número, essa dinâmica se intensifica, pois a minoria é vista não apenas como diferente, mas como uma ameaça existencial.
A contribuição de Appadurai situa esses fenômenos no contexto da globalização, mostrando como as ansiedades identitárias são exacerbadas pelas transformações globais. A sensação de perda de controle e a percepção de que a identidade nacional está em risco levam a reações violentas contra minorias, vistas como obstáculos à realização de uma fantasiada identidade plena.
Essa articulação permite compreender por que, em muitos casos, a hostilidade é direcionada precisamente a grupos que são numericamente insignificantes ou que possuem laços culturais próximos aos da maioria. A ameaça não está na capacidade real de subversão desses grupos, mas na sua representação simbólica das incertezas e fragilidades internas da sociedade dominante.
Desafiando os labirintos da identidade no globalismo: caminhos para além da raiva
Compreender esses mecanismos é crucial para o desenvolvimento de estratégias que visem reduzir a violência e promover a convivência pacífica. Reconhecer que a hostilidade direcionada a minorias tem raízes profundas em ansiedades identitárias nos permite abordar o problema de maneira mais robusta e abrangente.
Políticas que promovam a inclusão e valorização da diversidade cultural podem contribuir para diminuir o medo ao pequeno número. Educação para uma cultura digital e intercultural, visando à pluralidade e espaços de diálogo são fundamentais para desconstruir estereótipos e reduzir os efeitos engendrados pela necropolítica na geopolítica da raiva.
Além disso, é necessário enfrentar as inseguranças geradas pela globalização. Isso implica em repensar seriamente modelos econômicos e sociais que produzem desigualdades, marginalização e a catástrofe ambiental. Fortalecer redes de proteção social e promover o desenvolvimento sustentável pode reduzir a sensação de ameaça e a falsa saída na acusação de bodes expiatórios.
A psicanálise, certamente, é uma das práticas que oferecem ferramentas valiosas para compreender e trabalhar essas questões individual e coletivamente. Ao explorarmos os processos inconscientes que alimentam a hostilidade, é possível promover uma maior autoconsciência e responsabilidade ética do sujeito em sua relação tanto com os seus próprios desejos, quanto com o outro.
A era da globalização apresenta desafios complexos à compreensão da identidade e da alteridade. Os conceitos de Freud, Taguieff e Appadurai nos permitem começar a mapear os labirintos da raiva que emergem nesse contexto, revelando como mecanismos psíquicos e sociais se entrelaçam para produzir hostilidade e violência contra minorias ou mesmo maiorias subjugadas por variadas elites econômicas locais.
Desvendar esses processos é o primeiro passo para construir sociedades mais justas e inclusivas. Esse é um convite urgente à reflexão sobre quem somos e como nos relacionamos com o outro. Reconhecer a riqueza que reside nas diferenças, por menores que sejam, pode transformar o narcisismo e o medo em oportunidades de crescimento coletivo a partir do diálogo e da essencial política.
Em última instância, superar os labirintos da raiva requer coragem para enfrentar as próprias inseguranças e abrir-se ao desconhecido. Esse é um processo contínuo de desconstrução e reconstrução de uma identidade que, no limite, reconhece a interdependência global e a necessidade de coexistência pacífica em um mundo cada vez mais interconectado.

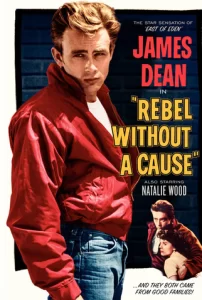
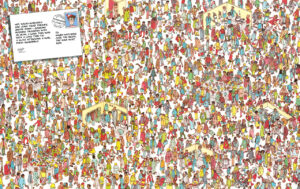 se entreolharam, naquele emaranhado de moletons em moles e fáceis tons pastéis e escuros de adolescentes que pretendiam sumir na coletividade, rapidamente, os olhos saltaram para um colega que trajava uma bela blusa de lã, com largas listras na horizontal, vermelhas e brancas.
se entreolharam, naquele emaranhado de moletons em moles e fáceis tons pastéis e escuros de adolescentes que pretendiam sumir na coletividade, rapidamente, os olhos saltaram para um colega que trajava uma bela blusa de lã, com largas listras na horizontal, vermelhas e brancas. ndia às provocações homofóbicas citando suas roupas e perfumes, com bom humor. Depois de um tempo compreendi que tais respostas eram suas únicas defesas, diante das tantas violências que certamente sofreu. Sobretudo, em escolas da elite econômica do interior de São Paulo.
ndia às provocações homofóbicas citando suas roupas e perfumes, com bom humor. Depois de um tempo compreendi que tais respostas eram suas únicas defesas, diante das tantas violências que certamente sofreu. Sobretudo, em escolas da elite econômica do interior de São Paulo.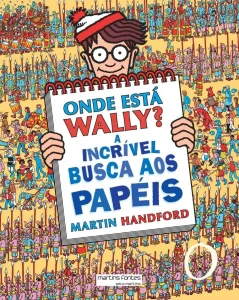 ia não houve um congraçamento total, porque somente uma pessoa não deu risada: o autor do bilhete. Até hoje me pergunto se ele aprendeu a lição.
ia não houve um congraçamento total, porque somente uma pessoa não deu risada: o autor do bilhete. Até hoje me pergunto se ele aprendeu a lição.
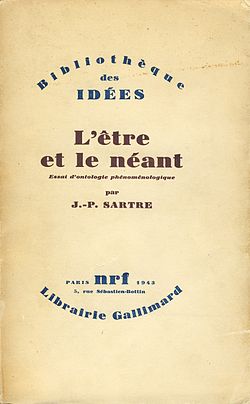
 Vamos então ao que interessa: O filme lançado ao mar de nossas conjecturas através do título que embasa esse texto.
Vamos então ao que interessa: O filme lançado ao mar de nossas conjecturas através do título que embasa esse texto. “Qual é a parte horrível da vida de um marinheiro, rapaz? É quando o trabalho acaba quando você está entre o vento e a água. Marasmo. Marasmo. Mais cruel que o Diabo. O tédio transforma homens em vilões”. Esse diálogo-monólogo, levado a cabo por Thomas Wake no filme, enquanto toma as bebidas que nos deixam estúpidos, exprime a necessidade humana maníaca (no sentido psiquiátrico do termo – de defesa contra a depressão – ou contra a loucura) pra lidar com a melancolia. Nossas histórias de terror, nossos entretenimentos modernos, nossos filmes e minisséries também são nossas defesas contra a realidade insuportável.
“Qual é a parte horrível da vida de um marinheiro, rapaz? É quando o trabalho acaba quando você está entre o vento e a água. Marasmo. Marasmo. Mais cruel que o Diabo. O tédio transforma homens em vilões”. Esse diálogo-monólogo, levado a cabo por Thomas Wake no filme, enquanto toma as bebidas que nos deixam estúpidos, exprime a necessidade humana maníaca (no sentido psiquiátrico do termo – de defesa contra a depressão – ou contra a loucura) pra lidar com a melancolia. Nossas histórias de terror, nossos entretenimentos modernos, nossos filmes e minisséries também são nossas defesas contra a realidade insuportável.